Newsletter #4
- 24 de out. de 2025
- 12 min de leitura
VOL 4 • OUT 2025
DEPOIMENTO DE JOVENS PESQUISADORES
Eu sirvo para ser cientista? Como lido com a vontade de desistir e a culpa
Por: Julia N. Acquaviva
Quase todos os colegas de profissão com quem conversei já consideraram largar o meio acadêmico em algum momento de suas carreiras. Nosso trabalho é muitas vezes incompreendido, pouco valorizado, competitivo, isolado, mal pago e, como se não bastasse, difícil. Com o passar dos anos, é natural que a vontade de desistir se torne cada vez mais presente. Um estudo feito em 38 países, utilizando quase 400 mil cientistas, descobriu que cerca de metade dos pesquisadores desistiram de fazer ciência em mais ou menos uma década (!!!) e que (infelizmente, mas esperado) mulheres tendem mais à desistência¹. Isso mostra que não estamos sozinhas, mas então, o que fazer?
Sou bióloga e cientista. Trabalho há mais ou menos 8 anos com ecologia evolutiva, e ainda estou aprendendo o que gosto de estudar e o que posso fazer. No final do mestrado, questionamentos excessivos passaram pela minha cabeça, muitos deles me fazendo sentir culpa e vontade de desistir. Foi recentemente que quis explorar esses sentimentos, me perguntando o que fazer a partir deles. Pouco tempo atrás, participei de uma escola de verão em modelagem evolutiva, na cidade de Lausanne, Suíça, após ser selecionada para uma bolsa destinada a estudantes de países em desenvolvimento (Figura 1). Uma oportunidade incrível para aprender técnicas fundamentais, mas, embora tenha começado empolgada, logo fui tomada pela culpa e pela sensação de inadequação. A teoria evolutiva depende de abstrações muitas vezes não triviais, além do viés matemático. Assim como muitas biólogas e biólogos, a matemática sempre me causou certo desconforto. Apesar do ambiente acolhedor e de um professor generoso, me senti para trás e profundamente frustrada. Estava em um lugar lindo, vivendo um momento importante da carreira, mas dominada pela pressão e pela culpa. Foi um momento decisivo: reforçou meu interesse pela teoria evolutiva, mas também escancarou as dificuldades que me fizeram considerar desistir. Depois disso, tirei uns dias para refletir sobre quais seriam as melhores formas de encarar esses sentimentos.

Fonte: A autora.
Antes de mais nada, é fundamental considerar o contexto político, social e econômico em que estamos inseridos. Para minorias, a carreira científica pode ser mais desafiadora. A imagem tradicional do cientista é a de um homem branco, cisgênero, do Norte Global, e para quem não se encaixa nesse perfil, a inserção no meio acadêmico é mais difícil. As mulheres, por exemplo, enfrentam um viés que minimiza seus trabalhos, muitas vezes de forma inconsciente². O racismo também é uma realidade no fazer científico. Um estudo de 2021 sobre representatividade em STEM (Ciência,Tecnologia, Engenharia e Matemática) nos EUA mostrou que apenas 8% dos cargos são ocupados por negros ou afro-americanos, um número menor que o de outras profissões³. Além disso, hispânicos e mulheres estão sub-representados³. Para quem pertence a esses (e outros) grupos, o desejo de desistir e a culpa que sentimos dificilmente são totalmente de nossa responsabilidade. Compreender a dimensão estrutural dessa realidade pode aliviar ao menos um pouco do peso que carregamos.
Efeito Matilda é um fenômeno de negação ou minimização do reconhecimento das conquistas de mulheres, especialmente na ciência, onde suas descobertas são frequentemente atribuídas a colegas homens.
Depois de incluir o contexto na conta, a forma de encarar esses sentimentos foi ter claro, de fato, por que estou nessa profissão. Cada história tem suas particularidades, mas não posso deixar de notar que existe um certo prazer envolvido… Caso contrário, por que escolher uma carreira que nos força a dar muito de si, sem muitas garantias de futuro? Tem que haver um motivo que me dê prazer em sentar e tentar de novo todos os dias. Qualquer outro motivo é muito frágil. Provavelmente essa persistência vem do prazer em descobrir e entender as coisas⁴. Pensar e criar, ter ideias e estruturá-las, convenhamos, é muito legal. E vale muito a pena. Ler sobre o que outros fizeram e fazem, como fizeram, entender a resposta para perguntas complexas... Isso tudo me dá vontade de continuar. Além disso, a quantidade de pessoas brilhantes e interessantes que eu conheço no meio fortalecem as minhas certezas, e me ajudam a enfrentar as dúvidas.
Em todas as minhas reflexões, acho que consegui chegar a uma lista de coisas que repito para mim mesma e que ponho em prática para aliviar a culpa e a vontade de desistir. Honestamente, ainda não sei se isso vai me tornar uma pesquisadora consagrada, mas vai me trazer alívio e melhorar a qualidade do meu trabalho, sem dúvidas. É uma lista bem pessoal e está longe de ser a resposta para tudo, mas tem me ajudado bastante. Aqui vai, caso sirva para você também:
1. Não ignore os seus sentimentos
Converse com alguém, exponha seus temores, coloque para fora. Se identificar é se sentir humano. Você vai notar que nossos sentimentos são muito mais comuns do que parecem. Se estiver muito difícil entender ou lidar, busque ajuda profissional.
2. Seja paciente e tenha compaixão consigo
É realmente uma corrida e é competitiva, mas também é a sua vida. Você merece se tratar com respeito e afeto. Nada será resolvido às pressas.
3. Tenha hobbies que não tenham nada a ver com ciência
Só fazer ciência não vai te tornar uma cientista melhor. Pode, inclusive, te deixar menos criativa. Conhecendo pessoas diferentes e fazendo atividades diferentes, você expande suas capacidades.
4. Não se compare com os colegas
Lembre-se de que estamos todos aprendendo. Alguns estão em estágios mais avançados porque tiveram mais tempo do que você para pensar no mesmo assunto. Isso é o que, primordialmente, distingue vocês. Imaginar que você deveria “nascer para isso” só te afasta dos seus objetivos e desumaniza o seu trabalho. Lembre-se sempre do contexto em que está inserida para fazer o melhor que pode fazer hoje, a partir disso.
5. Priorize e faça atividade física
Isso vai liberar a tensão, melhorar suas dores nas costas e aliviar os pensamentos intrusivos.
"Para minorias, a carreira científica pode ser mais desafiadora."
6. Aprenda a lidar com o “não”
A rejeição é a regra. É importante não levar a rejeição para o lado pessoal. Apesar de ser delicado, pode ser melhor desistir de pequenas coisas do que da carreira. Continue tentando até o “sim” chegar.
7. Priorize o seu descanso
Essa é a mais difícil. Quando a culpa bate, não existe descanso, só cobrança. Aprender a descansar envolve, necessariamente, aprender a dizer não para algumas coisas (e pessoas). A recuperação é essencial. No fim, é lembrar que você é primeiro uma pessoa, e depois uma cientista. Não menospreze isso.
Por trás de tudo o que a ciência oferece, ela é apenas mais um ofício. Isso também é libertador. Sei que pode parecer bobo, mas às vezes é preciso relembrar que há hora para começar, pausar e acabar. Os(as) melhores cientistas que conheço também se dedicam a outras coisas. Eles e elas também cantam, fazem yoga, lutam capoeira, karatê ou jiu-jitsu, passeiam com os filhos, gostam de cerâmica, fazem cerveja, correm, fazem roupas de crochê, andam de bike, nadam, leem romances, viajam por lazer... Se a vontade de desistir bater, é importante compreendê-la, às vezes fazendo isso com um método. Mas também é importante lembrar nesses momentos: esse ofício não te define por completo. Por isso, agarrar-se a outras atividades é também uma salvação.
Estruturar o pensamento e se tornar especialista em uma área toma (muito) tempo, exige paciência. Às vezes daremos voltas, não vamos publicar nada ou vamos enfrentar situações que nos deem vontade de desistir. Às vezes, encontramos pessoas difíceis, ruins e oportunistas, mas, como em todo lugar, também podemos encontrar parceiros, amigos e confidentes. Tome seu tempo. Acredito que a vontade de desistir faz parte do processo, mas, se ela envolver culpa, foque nesse sentimento e em como tratá-lo. Isso pode ser o caminho para resolver os conflitos e, de fato, fazer com que você se conheça melhor.
Tentando responder à pergunta do título: eu sirvo para ser cientista? Bom, minha forma de encarar essa pergunta é a seguinte: eu quero ser cientista? Se a resposta for sim, então eu sirvo para isso. Se a resposta for “acho que sim”, eu também sirvo. Com trabalho, dedicação, paciência, conversas, parcimônia e com atividades fora da academia, eu genuinamente acho que é possível, e que a confiança virá como consequência. A ciência só se beneficiará se todos, todas e todes nós pudermos ser cientistas, então, se você quer, vai fundo 😉 Força para nós nessa caminhada!
ALERTA! Se você enfrenta pensamentos difíceis, não hesite em procurar ajuda profissional. Existem centros gratuitos com psicólogos e psiquiatras que fazem trabalhos excelentes⁵ ⁶. Boa sorte!
Quem é Julia?

Bióloga pela Universidade de São Paulo (USP), Mestre em Ecologia pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e doutoranda em Ecologia pela USP. Tem experiência em ecologia teórica, modelagem evolutiva, mutualismos e redes ecológicas. Atualmente, está interessada em estudar como as aves da Mata Atlântica se adaptam a rápidas mudanças ambientais. Nas horas vagas, gosta de ler, ver filmes, nadar, viajar e ir para o bar com os amigos.
Email: julianader95@gmail.com
CONVERSA COM OS MESTRES
A mudança evolutiva e a mudança de paisagens adaptativas em tempo profundo
Por: Monique N. Simon
Ao pensarmos em evolução, podemos conceptualizá-la como mudanças de frequências alélicas ao longo de gerações. Porém, essa perspectiva vinda da genética de populações é difícil de se aplicar em mudanças evolutivas em tempo profundo, em linhagens ao longo de milhões de anos. Essa divergência entre áreas distintas da biologia, como genética de populações e paleontologia, remonta ao tempo da Síntese Moderna, nas décadas de 30 a 50 do século XX, em que se unificou a teoria da seleção natural de Darwin com conceitos em áreas antes disparatadas da biologia, como a genética de Mendel, a paleontologia e a sistemática. Uma ideia intimamente ligada à história da Síntese Moderna é o conceito de paisagem adaptativa. Proposto por Sewall Wright em 1932, a metáfora da paisagem adaptativa como uma topografia geológica (Figura 2) originalmente refletiu como combinações de diferentes genes, que interagem entre si (epistasia), produzem pontos de maior aptidão em uma população ("picos adaptativos") e pontos de menor aptidão ("vales adaptativos")⁷.

Mais tarde, em 1944, o paleontólogo G.G. Simpson, buscando entender como a evolução da dieta e da morfologia dos dentes ocorreu na linhagem que originou os cavalos, cooptou a ideia de paisagem adaptativa de Wright, porém trocando os eixos de combinações de genes para características fenotípicas, como altura e largura de dentes, passando a descrever a relação entre traços fenotípicos e aptidão (Figura 3)⁸. osas’ de genes, que aumentam a aptidão média populacional. Os vales adaptat

Simpson então elaborou o conceito de zona adaptativa, referente às características fenotípicas ótimas associadas a um modo de vida ou a um nicho ecológico. Segundo Simpson, a maior parte da evolução de uma linhagem se dava dentro dos limites de uma zona adaptativa, porém, em condições extraordinárias, poderia ocorrer uma mudança de zona adaptativa, alterando o fenótipo ótimo de uma linhagem (Figura 3)⁹. O que muitas vezes não é notado é que Simpson tinha uma visão de que as paisagens adaptativas mudam com o tempo, ou seja, que as paisagens adaptativas são dinâmicas. No exemplo da evolução de dieta mostrada na Figura 3, no Oligoceno, as duas zonas adaptativas associadas a diferentes morfologias dos dentes ficam mais próximas entre si, e o aumento de variação na linhagem ancestral teria facilitado uma transição de zonas adaptativas. Muito mais tarde, Russel Lande criou modelos matemáticos e estatísticos que descrevem a inclinação (seleção direcional), a curvatura (seleção estabilizadora) e a orientação (seleção correlacionada, que mede como a interação entre caracteres fenotípicos afeta aptidão) da paisagem adaptativa¹⁰ ¹². Ou seja, a paisagem adaptativa deixa de ser uma metáfora para se tornar algo mensurável em sistemas empíricos. Sendo mensurável, podemos entender o quanto as paisagens mudam ao longo do tempo.
Após muitas décadas de estudos empíricos medindo especialmente seleção direcional em populações naturais, alguns padrões emergiram: (1) Seleção direcional tende a ser forte¹³ (apesar da dúvida do poder estatístico dos estudos em detectar seleção fraca); (2) Seleção direcional frequentemente varia no espaço e no tempo, inclusive revertendo sua direção¹⁴ ¹⁵. Um dos grandes legados para a biologia evolutiva são os estudos de Rosemary e Peter Grant com os tentilhões de Darwin mostrando que a direção de seleção varia com o tempo conforme a disponibilidade de sementes e sua dureza, mudando a pressão seletiva na espessura dos bicos que quebram essas sementes¹⁶. Ou seja, a dinâmica das paisagens adaptativas tem uma dependência ecológica. Entretanto, esses estudos são na escala microevolutiva, e nos resta entender o impacto de uma paisagem adaptativa dinâmica no processo de divergência e diversificação entre espécies.
Ao passarmos para a escala macroevolutiva, é importante entender que os métodos filogenéticos comparativos de adaptação¹⁷ podem modelar mudanças na paisagem adaptativa ao longo do tempo. Voltando ao exemplo de evolução na linhagem dos cavalos, Hansen¹⁷ estimou que demorou de 2,6 a 13 m.a. para a morfologia do dente mudar do ancestral para o novo ótimo adaptativo associado a comer grama (pastagens). Ou seja, as paisagens macroevolutivas são dinâmicas, mas as mudanças ocorrem na escala de milhões de anos apenas¹⁸, em contraste com as mudanças efêmeras e frequentes na escala microevolutiva. Outro exemplo de como modelar mudança em paisagem adaptativa usando métodos comparativos é o estudo que eu realizei com a evolução da morfologia dos membros posteriores e do desempenho de salto em 60 espécies de anfíbios anuros (Figura 4). Mostramos que a maior parte da divergência entre espécies ao longo de aproximadamente 50 m.a. foi em tamanho alométrico (mudança de tamanho que altera a forma). Modelamos então como essa mudança em tamanho poderia influenciar o pico adaptativo de salto nas espécies, usando uma regressão filogenética adaptativa¹⁹. Concluímos que a mudança em tamanho afetou a posição da aceleração máxima de salto, sendo que as espécies que diminuíram de tamanho apresentam maior aceleração de salto, possivelmente por terem evoluído um mecanismo de aumentar seu desempenho de salto por força elástica (Figura 4)²⁰. Atualmente, estou iniciando meu projeto Jovem Pesquisador FAPESP para explorar como mudanças na paisagem adaptativa associadas à natação em anuros moldou a divergência de espécies da Mata Atlântica. Se ficou interessada(o), procurem-me!

Quem é Monique?

Monique N. Simon é uma bióloga evolutiva associada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP), que está criando seu laboratório
de Ecologia e Evolução da Forma e Função (LEEF). A sua linha de pesquisa busca conectar micro-
e macroevolução com transições ecológicas ligadas a mudanças em desempenho funcional e na
paisagem adaptativa macroevolutiva (Projeto JP FAPESP 2023/16481-0).
Email: monique.simon@usp.br
NOVIDADES & INFORMES
SBBE26
O próximo Congresso Brasileiro de Biologia Evolutiva já tem data e local! O SBBE26 vai acontecer na UFMG, Belo Horizonte, MG, durante os dias 15 a 17 de julho de 2026. Lembrando que sócios SBBE terão descontos nas inscrições. Fiquem de olho em nossas redes sociais e em seus emails para atualizações sobre abertura de inscrições e submissões e programação do evento.
COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO SBBE26
Estamos selecionando pessoal para fazer parte da comissão de divulgação para o SBBE26. Todas as informações completas estão no formulário abaixo. Pessoas de Minas Gerais terão preferência na seleção. Ajude-nos a montar novamente um evento incrível!

REFERÊNCIAS
Kwiek M, Szymula L. High Educ 2025;89:1465–93.
Rossiter MW. Soc Stud Sci 1993;23(2):325-41.
National Science Board. Sci Eng Ind 2024. Disponível em: https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb20245/
Feynman_i_dont_like_honors_ [longer_version]. batxg3, YouTube 2006. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=f61KMw5zVhg
Serviços de Saúde Mental Gratuitos na Cidade de São Paulo. Disponível em: https://cddh.fflch.usp.br/saude-mental-atendimento-gratuito
Ministério da Saúde. Saúde Mental. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-mental
Wright S. The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution. Proc. of the VI International Congress of Genetics 1932:355–66.
Simpson GG. Tempo and Mode in Evolution. Columbia University Press 1944.
Arnold SJ. Am Nat 2014;183(6):729-46
Lande R. Evolution 1979;33(1):402-16.
Lande R, Arnold SJ. Evolution 1983;37(6):1210
Phillips PC, Arnold SJ. Evolution 1989;43(6):
Kingsolver JG, Diamond SE, Siepielski AM, Carlson SM. Evol Ecol 2012;26(5):1101-18.
Siepielski AM, DiBattista JD, Carlson SM. Ecol Lett 2009;12(11):1261-76.
Stroud JT, Moore MP, Langerhans RB, Losos JB. PNAS 2003;120(42):e2222071120.
Grant PR, Grant BR. 40 years of evolution: Darwin's finches on Daphne Major Island. Princeton University Press 2014.
Hansen TF. Evolution 1997;51(5):1341-51
Hansen TF, Svensson E, Calsbeek R. The adaptive landscape in evolutionary biology. Oxford University Press 2012.
Hansen TF, Pienaar J, Orzack SH. Evolution 2008;62(8):1965-77.
Simon MN, Courtois EA, Herrel A, Moen DS. Am Nat 2025;205(6):637-55.55.55.
Boletim Informativo
Newsletter de divulgação da Sociedade Brasileira de Biologia Evolutiva
| Publicação Bimensal
Editores desta edição: Fernanda S. Caron e Júnior Nadaline
Design, revisão e composição: Fernanda S. Caron, George Pacheco e Júnior Nadaline
Newsletter online: publicada exclusivamente em versão eletrônica em https://www.sbbevol.org/post/newsletter-4




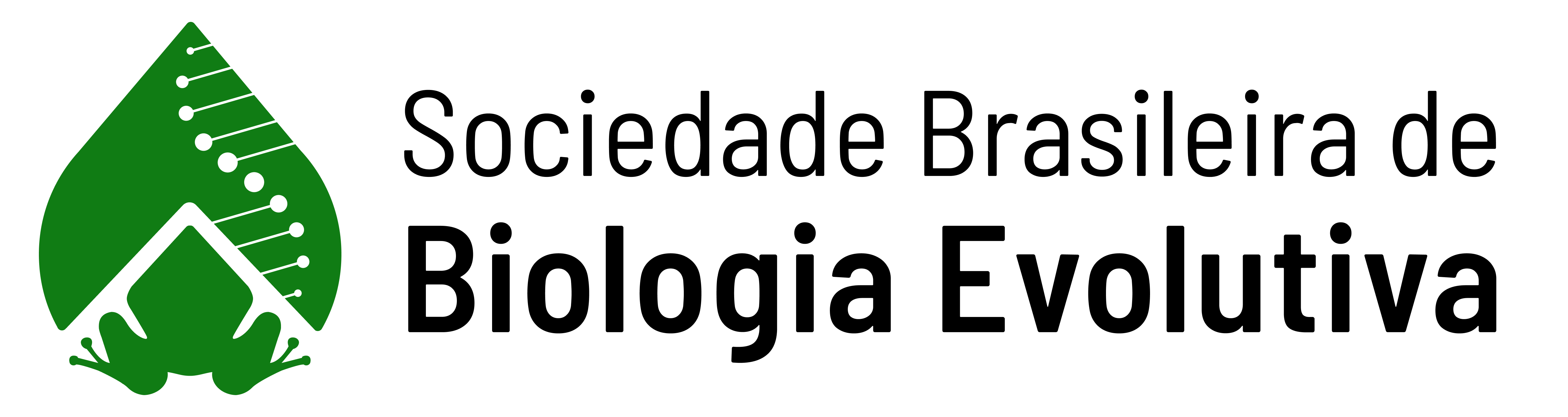


Morro de amores pelas newsletters! Parabéns aos editores e autores pelos ótimos textos!
A lista da Julia, muito pertinente, eu passarei a usar em sala de aula! :)